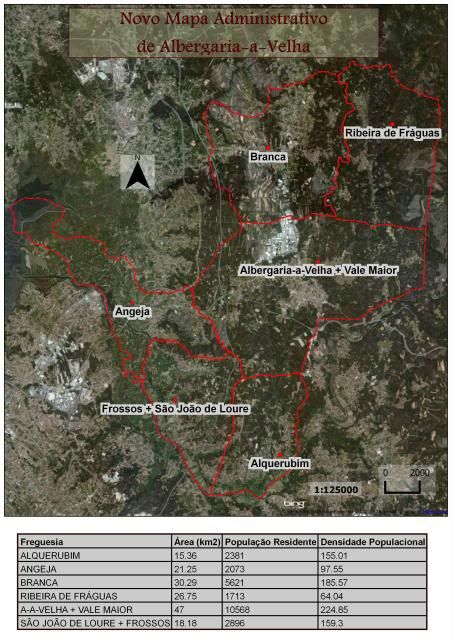O director Oliver Stone viaja por seis países da América do Sul e ainda Cuba, numa tentativa de compreender o fenómeno que os levou a ter governos de esquerda na primeira década do século XXI. Através de conversas com Hugo Chávez (Venezuela), Cristina Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolívia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguai), Rafael Correa (Equador) e Raul Castro (Cuba), é analisado o modo como a comunicação social acompanha cada governo e a sua relação com os Estados Unidos e órgãos mundiais como o FMI.
sexta-feira, 7 de dezembro de 2012
quarta-feira, 28 de novembro de 2012
sexta-feira, 16 de novembro de 2012
sexta-feira, 9 de novembro de 2012
terça-feira, 6 de novembro de 2012
terça-feira, 30 de outubro de 2012
A revolução urbana que virá
O movimento occupy
pode marcar o início de uma nova era de levantamentos urbanos. David Harvey
explica porquê.
Desde Paris
em 1871, Praga em 1968, até ao Cairo em 2011, e eventualmente as ruas de Nova
Iorque, as cidades sempre foram um viveiro de movimentos radicais. Os
protestos urbanos foram, ao longo de décadas, motivados pelo desemprego,
escassez de alimentos, privatizações e corrupção. Mas terão sido também
causados pela geografia das próprias cidades?
O seu novo
livro Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, disseca
os efeitos da política financeira do mercado livre sobre a vida urbana, a
dívida incapacitante dos norte-americanos de
médios e baixos rendimento e como o desenvolvimento descontrolado destruiu o
espaço comum dos habitantes da cidade.
Começando com
a questão: “Como é que se organiza uma cidade inteira?”, Harvey analisa a forma
como a atual crise de crédito teve a sua raiz no desenvolvimento urbano e
como este tornou virtualmente impossivel qualquer tipo de planeamento urbano
nas cidades norte-americanas, nos últimos 20 anos. Harvey está na vanguarda do
movimento pelo “direito à cidade,” a ideia de que os cidadãos devem ter uma
palavra a dizer na forma como as suas
cidades são desenvolvidas e organizadas. Inspirando-se na Comuna de Paris de
1871, quando a totalidade da cidade de Paris derrubou a aristocra- cia para
tomar o poder, Harvey descreve onde as cidades organizaram, poderiam ou
deveriam organizar-se de forma mais sã e inclusiva.
Nesta
entrevista, Harvey fala sobre o Movimento “Occupy Wall Street” (OWS), a
destrutividade do desenvolvimento de Bloomberg na cidade de Nova Oorque, e
sobre como tornar a cidade em algo mais próximo dos nossos desejos.
Você descreve o
“direito à cidade” como um slogan vazio. Mas o que é que significa?
Todos podem
reivindicar o direito à cidade. Bloomberg tem direito à cidade. Mas as diversas
fações existentes na cidade possuem diferentes capacidades de exercer esse
direito. Então, quando eu falo sobre o direito de transformar a cidade de
acordo com os nossos desejos, o que vimos em Nova Iorque, nos últimos 20-30
anos, tem sido de acordo com os desejos dos ricos. Nos anos 71 90, os irmãos
Rockefeller, por exemplo, eram dos mais poderosos. Agora temos pessoas como
Bloomberg, que essencialmente fazem a cidade da forma mais conveniente para
eles e para os seus negócios. Mas a maioria da população não tem qualquer
influência sobre este processo. Existem cerca de um milhão de pessoas nesta
cidade que tentam sobreviver com 10 mil dólares por ano. Que influência têm
sobre o tipo de cidade que está a ser contruído? Nenhuma.
A minha
preocupação em relação ao direito à cidade não é a de dizer que existe uma
forma ética de fazer as coisas, mas a de que existe algo que é objeto de dispu-
ta. Que direito? Para fazer que tipo de cidade? A minha preocupação é que esse
milhão de pessoas que vive com 10 mil dólares por ano deveria ter tanta
influência quanto o 1% mais rico. Eu chamo-lhe um “significante vazio” poque se
trata sobretudo de saber quem o reivindica e afirma. “É o meu direito que
interessa, e não o seu direito”. Envolverá sempre conflito.
Desde os anos 1980,
verificou-se uma onda mundial de privatizações de instituições públicas (escolas, transporte
ferroviário, água). Tal tem causado agitação nas pessoas de baixos rendimentos
que vivem nas cidades?
De certa
forma essa é uma das perguntas que tento colocar no livro. Por que é que não
fizemos nada em relação a isso? Por que é que não tivemos o nosso Maio de 68?
Por que é que não houve mais tumultos, dado o enorme aumento das desigualdades
na maioria das cidades norte-americanas e no resto do mundo? Começamos agora a
assistir a algum tipo de resposta com o OWS e movimentos noutras partes do
mundo. No Chile, os estudantes ocuparam as universidades, à semelhança do que
se passou nos anos 1960 contra as desigualdades que existiam na altura.
Eu não sei
bem porque não houve mais tumultos. Eu acho que tem a ver com o tremendo poder
que o dinheiro tem para comandar o aparato policial. Creio que vivemos
atualmente numa situação muito perigosa, porque qualquer forma de agitação é
suscetível de ser tratada como uma forma de terrorismo, dado o aparato de
segurança pós-11 de setembro. Temos visto em lugares como a Praça Tahrir e
noutros levantamentos urbanos, com ecos no Wisconsin no ano passado, que
existem sinais de resistência que começam a surgir. Há aqui um paralelo com o
que aconteceu nos idos de 1930. Aquando do crash da bolsa, em 1929, só
surgiram grandes protestos a partir de 1933, quando começou a emergir um
movimento de massas. Podemos estar a chegar a essa fase neste momento, pois a
depressão, a recessão, o que você quiser chamá-la, não acabou, existe ainda
desemprego massivo, as pessoas continuam a perder as suas casas e começam a
perceber que esta situação não é temporária. Esta é uma condição permanente.
Então eu acho que existe neste momento mais propensão para o aparecimento de
agitação de massas. Não é como em 1987, quando houve um crash, mas do
qual saimos num par de anos. Não é o que está a acontecer neste país.
Existe uma
diferença grande entre uma explosão espontânea de raiva, que não tem um
objetivo político, e uma resposta mais deliberada como a que vimos com o OWS.
Esta pretendia transmitir uma mensagem, colocar o tema da desigualdade social
na agenda política, e acho que foram muito bem sucedidos. Pelo menos, o Partido
Democrata fala sobre isso quando não o fazia há um ano atrás. Não era sequer
mencionado. Mas agora eles falam sobre o assunto, que começou a infiltrar-se na
campanha Obama, que de alguma forma captou essa retórica.
Porque é que a Comuna
de Paris de 1871 é importante para os movimentos de hoje?
Por duas
razões: A primeira é que é uma das grandes revoltas da história. É por isso
objeto de discussão e estudo por direito próprio. Outra razão é porque faz
parte do panteão do pensamento de esquerda. É interessante o facto de Marx,
Engels, Lenine e Trotsky, terem todos olhado para a Comuna de Paris como um
exemplo que necessitava ser aprendido, e até certo ponto seguido, como foi em
Petrogrado em 1905 e, mais tarde, durante a própria Revolução Russa. Por isso
constitui uma base de aprendizagem mas também de questionamento.
Como é que a
urbanização do mercado livre destruiu a cidade enquanto “comum”, em termos
sociais, políticos e de vivência quotidiana?
Sem romantizar
o que era cidade da década de 1920 e 1930, esta constitua uma concentração
relativamente compacta de população urbana governada por uma máquina política –
um poder político efetivo e concentrado. Ao longo do tempo, verificou-se uma
dispersão via suburbanização, originando uma cidade espalhada. Dispersou-se o
que é chamado de “gueto”, cada vez mais, de modo a que as comunidades de baixos
rendimentos não possuíssem níveis suficientes de concentração para a sua
auto-organização. Houve momentos em que foi possível estas reunirem-se, como é
o caso Rodney King em Los Angeles. Penso que a dispersão da cidade, a criação
dos subúrbios e de condomínios fechados, fragmenta a possibilidade de uma vida
política coerente e a ideia de um projeto político comunal. Conduz a muita
política “não no meu quintal”. As pessoas não querem viver perto de pessoas que
parecem diferentes, não querem migrantes nas redondezas – por isso as
sociabilidades mudaram. Eu acho que a subjetividade política que tem sido
criada nos subúrbios, nos condomínios fechados, é uma subjetividade fragmentada
em que ninguém vai ser capaz de abarcar a totalidade da cidade, a totalidade do
processo urbano como algo com que eles se deveriam preocupar.
Estão apenas
preocupados com o seu pedaço dela. O projeto político atual deveria ser o da
reconstrução do corpo político da cidade sobre as ruínas do processo de
capitalização.
Um termo que continua
a aparecer nas histórias do OWS é o de “precariado” (trabalhadores autónomos ou
não sindicalizados). Porque é que eles são importantes para os movimentos
radicais?
Eu não sou
muito apreciador do termo “precariado”. Em muitos casos, as pessoas que
produzem e reproduzem a vida urbana olham para a sua condição como de
insegurança, dado muito desse trabalho ser temporário, e são, em muitos
aspetos, diferentes dos trabalhadores fabris. A esquerda, historicamente,
sempre considerou os sindicatos e os operários como a base que protagonizaria
mudanças políticas. A esquerda nunca pensou nas pessoas que produzem e reproduzem
a vida urbana como sendo um fenómeno relevante. Aqui é que eu acho que o
exemplo da Comuna de Paris entra, pois se se olhar realmente para quem fez a
Comuna de Paris constata-se que não foram os operários fabris. Foram artesãos,
e a maioria da força de trabalho em Paris nessa época era precária.
O que se
verifica agora, com o desaparecimento de muitas fábricas é que não existe uma
classe trabalhadora industrial com a mesma dimensão e importância que existia
na década de 1960 e 70. Então a questão que se coloca é: o que constitui
atualmente a base política da esquerda? E o meu argumento é que essa base são
todas as pessoas que produzem e reproduzem a vida urbana. A maioria dessas são
precárias, muitas vezes em movimento constante, não são facilmente organizáveis,
difíceis de sindicalizar, são uma população itinerante, mas mesmo assim possuem
um enorme potencial de poder político.
O exemplo que
eu uso sempre é o do
movimento pelos direitos dos imigrantes de 2006. Uma boa parte da população
imigrante recusou-se a trabalhar por um dia, e Los Angeles e Chicago tiveram
que fechar, mostrando que eles possuiam um enorme poder. Deveríamos pensar
sobre este grupo da população. Isto não exclui o trabalho organizado, mas a
sindicalização no setor privado (em oposição ao setor público) não ultrapassa
9% da população. A realidade do trabalho precário é enorme. E se conseguirmos
encontrar uma maneira de organizá-los e se eles conseguirem encontrar novos
meios de expressão política, considero que poderão constituir uma influência
enorme sobre a forma como a vida urbana é vivida e estruturada numa cidade como
Nova Iorque, Chicago, Los Angeles ou qualquer outra.
Você afirma que “a
revolução dos nossos tempos terá que ser urbana.” Porque é que a esquerda é tão
resistente a essa ideia?
Acho que isso
é parte da disputa sobre como interpretar a Comuna de Paris. Algumas pessoas
afirmam que foi um movimento social urbano e como tal não constituiu um
movimento de classe. Tal pode ser rastreado à visão marxista/es- querdista de
que apenas os operários fabris poderiam criar um movimento revolucionário. Bom,
se não existirem fábricas suficientes ao nosso redor não poderá haver uma
revolução. Isso é ridículo.
Eu argumento
que devemos olhar para o urbano como um fenómeno de classe. Afinal, é o capital
financeiro que é o produtor atual da cidade, ao construir os condomínios e os
escritórios. Se quisermos resistir ao que estão a fazer, então temos que travar
uma luta
de classes, de facto, contra o seu poder. Estou muito preocupado com a questão:
como podemos organizar uma cidade inteira? A cidade é onde o futuro político da
esquerda se encontra.
Como é que os espaços
públicos podem ser transformados em lugares mais acessíveis?
Eu olho para
isso de forma simples – existe muito espaço público na cidade de Nova Iorque,
mas muito pouco onde se possa desenvolver atividades em comum. A democracia
ateniense teve a ágora. Onde é que podemos ir em Nova Iorque, onde é que temos
uma ágora para poder realmente falar. Isto é o que as assembleias procuraram
fazer, o que as pessoas do Parque Zuccotti estão a tentar fazer. Eles
construiram um espaço onde pode existir diálogo político. Por isso,
necessitamos de tomar o espaço público, onde, ao que parece, o público não é
permitido, e transformá-lo num espaço político comum, onde decisões reais sejam
tomadas, onde possamos decidir se é uma boa ideia ser construído um novo
edifício, um sem número de condomínios.
No outro dia,
passei por alguns parques, Union Square por exemplo, onde era possível realizar
eventos, mas muitos destes foram transformados em canteiros de flores. Então,
as túlipas possuem um espaço “comum”, mas nós não. Os espaços públicos são
atualmente totalmente controlados pelo poder político, de forma que estes deixaram
de ser comuns.
As políticas de
Bloomberg foram descritas como “construir como Moses com Jane Jacobs em mente”.
Como é que ele consegue reconciliar estas duas visões?
Significa que
se está a construir num estilo alto-modernista e de forma bastante implacável.
A administração Bloomberg lançou mais megaprojetos que Moses nos 1960, mas
tentou fazê-lo de forma a que apareça publicamente em defesa das comunidades
com uma estética semelhante a Jane Jacobs. Tal mascara as reais intenções
destes grandes projetos, com uma certa coloração ambientalista tam- bém.
Bloomberg é genuinamente, até certo ponto, um ambientalista. Ele fica muito
feliz se for possível construir um edíficio “verde”. Vimo-lo a reorganizar as
ruas em espaços “cicláveis” – desde que, é claro, elas não se tornem em lugares
de protestos massivos de ciclistas. Nesse caso, ele ficaria bastante infeliz.
Considera que existe
um movimento de resistência crescente a estas políticas urbanas de mercado
livre?
O que é
surpreendente é que se fizesse um mapeamento dos protestos à escala mundial,
dirigidos aos aspetos negativos do capitalismo, constatar-se-ia uma enorme
massa de protestos. O problema é que muitos deles são fragmentados. Por
exemplo, hoje fala-se dos protestos em torno dos empréstimos bancários a
estudantes. Amanhã, poderão existir pessoas a resistir à execução de hipotecas
das suas casas; outros poderão estar a organizar um protesto contra o
encerramento de um hospital, ou sobre o que se passa na educação pública. Neste
momento, a dificuldade é a de encontrar alguma forma de conectar todos estes protestos.
Existem algumas tentativas de criação de alianças, como “The Right to the City
Alliance”, e o “Excluded Workers Congress”, pelo que se começaram a desenvolver formas
de articulação. Mas encontra-se ainda no primeiro estágio de desenvolvimento.
Se for
possível agregar todos, encontrar-se-á uma enorme masssa de pessoas
interessadas em mudar o sistema, da raiz até aos ramos, pois este não satisfaz
as reais necessidades e desejos de ninguém.
O Movimento OWS
parece mesclar alguns dos assuntos que mencionou, mas ainda carece de uma mensagem
coerente. Porque é que a esquerda foi sempre resistente à ideia de liderança,
de hierarquia?
Considero que
a esquerda sempre teve um problema, um fetichismo da organização, uma crença de
que determinado tipo de organização é suficiente para um projeto particular.
Tal verificou-se no projeto comunista, onde seguiram um modelo
centralista-democrático, sem nunca se desviarem dele. E esse modelo possuía
algumas forças e certas fraquezas. Atualmente assistimos, por parte de muitos
elementos na esquerda, à resistência a qualquer forma de hierarquia. Eles
insistem que tudo deve ser horizontal e abertamente democrático. Na verdade não
o é, na prática.
Com efeito o
movimento Occupy Wall Street operou como um movimento de vanguarda [um partido
político na frente do movimento]. Eles negá-lo-ão, mas foram-no de facto. Eles
falaram em nome dos 99% mas não eram os 99%. Eles falaram para os 99%. É
necessário existir muito mais flexibilidade por parte da esquerda na construção
de diferentes tipos de estruturas organizacionais. Fiquei muito impressionado
com o modelo
El Alto na Bolívia, que era um misto de estruturas horizontais e hierárquicas
que se uniram para criar um organização política muito poderosa. Eu acho que
quanto mais cedo nos afastarmos de certos métodos de discussão, melhor.
As regras de
discussão que estão correntemente em voga são muito boas para pequenos grupos, onde
é possível realizar assembleias. Mas se se quiser criar uma assembleia que
inclua a totalidade da população de Nova Iorque, não é possível. É preciso
então pensar de que forma se poderiam realizar assembleias regionais, ou uma
mega-assembleia. De facto, o OWS possui um comité de coordenação. Eles são, no
entanto, muito reticentes em assumir realmente a liderança e a construção da
organização.
Considero que
os movimentos bem sucedidos sempre foram um misto de horizontalidade e de
hierarquia. Um dos mais impressionantes com que me deparei foi o movimento
estudantil chileno, onde uma das líderes era uma jovem mulher comunista [Camila
Vallejo], que era o mais aberta possível a tomar decisões “horizontais”, ao invés de
ser um comité central a decidir tudo. Mas ao mesmo tempo, quando a liderança é
necessária, esta deve ter exercida. Se começarmos a pensar nestes termos,
teremos, na esquerda, um sistema mais flexível de organização. Existem grupos
dentro do OWS que estão a convencer pessoas a aderir ao Partido Democrata de
forma a que este apoie a reivindicações do movimento, e caso não se verifique,
a lançar candidaturas contra este. Existe uma ala a fazer este tipo de coisas,
mas não são de todo a maioria.
No fim do seu livro,
não fornece muitas respostas, mas deseja abrir um diálogo sobre como sair deste
momento de multiplicação das crises do capitalismo e de desigualdade económica
generalizada. Acha que tal saída pode surgir do movimento Occupy?
Poderia
possivelmente. Se o movimento sindical se mover em direção a formas mais
geográficas de organização, e não apenas baseadas no local de trabalho, então
as alianças entre movimentos sociais urbanos e sindicatos poderiam ser muito
mais fortes. O que é interessante é que existe uma longa história de
colaborações deste tipo que foram bem sucedidas. Se o OWS desenvolver um
caminho de maior colaboração com o movimento sindical, então poderá surgir um
sem número de ações políticas possíveis. O meu livro é uma base para explorar
todas essas possibilidades, sem descartar nenhuma, pois não sabemos como será a
forma mais bem sucedida de organização. Mas existe, neste momento, um enorme
espaço para o ativismo político.
---------------------------
*David Harvey,
geógrafo e teórico social, professor de antropologia no Graduate Center da City
University de Nova Iorque, e um dos 20 académicos das humanidades mais citado
de todos os tempos, dedicou a sua carreira a
explorar a forma como as cidades se organizam, o que elas fazem, quais as suas
principais realizações.
Entrevista de Max
Rivlin-Nadier. Tradução Hugo Dias
Fonte: Revista Vírus, site português de Portugal.
http://zelmar.blogspot.pt/2012/08/a-revolucao-urbana-que-vira.html
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
The Simpsons by Banksy
How did “The Simpsons” manage to track down Banksy, the pseudonymous British artist, and get him to create the powerful opening-credit sequence
from Sunday’s episode, which seems to reveal the torturous sweatshop
responsible for the show’s creation? And how, after all that mockery,
have the producers behind that Fox animated series been able to retain
their jobs? Al Jean, an executive producer and the longtime show runner
of “The Simpsons,” pulled back another layer of the curtain and
explained the stunt to ArtsBeat on Monday afternoon.
Q.
How did you find Banksy to do this, and now that it’s done, how much trouble are you in?
A.
Well, I haven’t been fired yet, so that’s a good sign. I saw the film Banksy directed, “Exit Through the Gift Shop,”
and I thought, oh, we should see if he would do a main title for the
show, a couch gag. So I asked Bonnie Pietila, our casting director, if
she could locate him, because she had previously located people like
Thomas Pynchon. And she did it through the producers of that film. We
didn’t have any agenda. We said, “We’d like to see if you would do a
couch gag.” So he sent back boards for pretty much what you saw.
Q.
Were you concerned that what he sent you could get the show into hot water?
A.
I’d
be lying if I said I didn’t think about it for a little bit. Certainly,
Fox has been very gracious about us biting the hand that feeds us, but I
showed it to Matt Groening,
and he said, no, we should go for it and try to do it pretty much as
close as we can to his original intention. So we did. Like we always do,
every show is submitted to broadcast standards, and they had a couple
of [changes] which I agreed with, for taste. But 95 percent of it is
just the way he wanted.
Q.
Can you say what got cut out?
A.
I’ll
just say, it was even a little sadder. But I would have to say almost
all of it stayed in. We were thrilled. It was funny, I watched “Mad Men” last night
and I wondered if this was my Don Draper letter to The New York Times. I
knew just how he felt. But it was great to have a secret.
Q.
One of the things Banksy is known for is disguising his identity. How can you be sure that you were dealing with the real him?
A.
The
original boards that we got from him were in his style and were
certainly by an extremely proficient artist. We were dealing with the
person that represented him making the movie. I haven’t met him, I don’t
even know what he looks like, except what the Internet suggests. And
he’s taken credit for it now so I’m pretty sure it’s him. We went
through the people that made the movie so I assume they would know how
to get to the real him.
Q.
Even
compared to how “The Simpsons” has mocked Fox in the past, this seemed
to push things to a different level. Are you sure there’s no one higher
up than you on the corporate ladder who’s displeased with this?
A.
I think that we should always be able to say the holes in our DVDs are poked by unhappy unicorns.
Q.
Has
Banksy’s criticism made you reconsider any of the ways you do things at
“The Simpsons” in terms of producing the show or its merchandise?
A.
I
have to say, it’s very fanciful, far-fetched. None of the things he
depicts are true. That statement should be self-evident, but I will
emphatically state it.
Q.
A lot of the show’s animation is produced in South Korea, but not under those conditions.
A.
No, absolutely not.
Q.
And even that closing shot of the 20th Century Fox logo surrounded in barbed wire?
A.
Approved
by them. Obviously, the animation to do this was pricey. I couldn’t
have just snuck it by Fox. I’ll just say it’s a place where edgy comedy
can really thrive, as long as it’s funny, which I think this was. None
of it’s personal. This is what made “The Simpsons” what it is.
‘The Simpsons’ Explains Its Button-Pushing Banksy Opening
domingo, 14 de outubro de 2012
Ranking das Escolas 2012
Open publication - Free publishing - More ensino
No ranking do ensino secundário, a comparação é feita com os Concelhos do Distrito de Aveiro.
No ranking do ensino básico, a comparação é feita com os Concelhos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
No ranking do ensino secundário, a comparação é feita com os Concelhos do Distrito de Aveiro.
No ranking do ensino básico, a comparação é feita com os Concelhos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
Reforma Administrativa do Poder Local
A “reforma” administrativa do poder local surge
na agenda política como imposição consagrada no Memorando de Entendimento com a
Troika. Esta imposição constitui uma ingerência intolerável no modelo de
administração e de ordenamento do território nacional, com propósitos meramente
economicistas, sem sustentação científica, conhecimento das diversas realidades
locais e alheia às necessidades e anseios dos cidadãos. Estes factores
motivaram um sentimento de rejeição transversal aos meios políticos,
académicos, autárquicos e da sociedade civil.
As
freguesias (e os municípios) são, numa grande área do país, os principais e até
mesmo os únicos dinamizadores sociais e culturais locais, além de prestarem
serviços essenciais à população, designadamente, nos transportes escolares, no
apoio a desempregados, dinamização de cantinas sociais, serviço de postos de
correios, de ambulâncias, de emissão de declarações electrónicas de IRS, junto
de grupos com características de maior ruralidade e afastadas da sede de
Concelho, a juntar às competências próprias legais das Freguesias. Além disso,
com o recente surto de encerramento de escolas, esquadras, urgências e demais
organismos do estado, as freguesias constituem a última face do poder estatal no
Portugal profundo. Se nos centros urbanos a agregação de freguesias faz todo o
sentido, pela evolução do tecido e continuum urbano, que tornam a divisão
territorial obsoleta, nos espaços rurais esta constitui uma machadada no
desenvolvimento e coesão social de cada lugar.
Esta “reforma”, que não passa de uma redução a
régua e esquadro do total de freguesias, surge descontextualizada de todos os
instrumentos de gestão territorial em vigor, inclusivamente dos planos directores
municipais, actualmente em fase de revisão, comprometendo a sua eficácia.
Simultaneamente, ocorre paralelamente ao processo de descentralização
desencadeado com a criação das comunidades intermunicipais, quando deveria ser
uma consequência deste. Ou seja, a reforma processa-se hierarquicamente no
sentido inverso ao desejável, pois deveria partir dos níveis mais elevados, de
administração central, regional, municipal e por último, sub-municipal.
Segundo uma nota
informativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a “reorganização
administrativa territorial autárquica insere-se no âmbito da política
reformista que o XIX Governo Constitucional pretende desenvolver em sede de
poder local e do objetivo de garantir a consolidação orçamental e a
sustentabilidade das contas públicas decorrente do Programa de Assistência
Económica e Financeira (PAEF) assumido por Portugal com a Comissão Europeia,
Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu”. O grande desígnio economicista da
“reforma” cai por terra quando nos deparamos com o peso das freguesias no
orçamento de estado (<0,1%), principalmente quando comparado com a dívida
acumulada de certas autarquias e do sector empresarial do estado. O valor poupado
será até bastante inferior, se considerarmos que apenas um terço das freguesias
serão extintas e destas, as menores, logo, as que recebem menos recursos
financeiros. Facilmente chegamos a um valor inferior a 0,03% do orçamento de
estado. Ou seja, menos de um euro per capita anual. A cegueira contabilística omite
até o facto de algumas freguesias rurais serem sustentáveis sem qualquer
transferência financeira do orçamento de estado, graças a receitas próprias, em
particular as resultantes de rendas provenientes da energia eólica. A
incoerência é ainda maior quando analisamos o vencimento dos órgãos eleitos,
que serão superiores com a agregação de freguesias e consequente necessidade de
trabalho a tempo inteiro; e o prometido reforço em 15% das transferência
financeiras para as freguesias agregadas.
Os critérios subjacentes à futura divisão
administrativa são em si um insulto ao ordenamento territorial e à correcta
gestão do território, dos recursos e da sustentabilidade e coesão social. O governo
aceita e lança as bases da reforma assente em critérios quantitativos,
acríticos, sem atender às particularidades de cada caso. Impensável aplicar os
mesmos critérios a freguesias de regiões tão díspares como o Minho e o
Alentejo, ou uma região metropolitana e Trás-os-Montes. Os critérios
demográficos e geográficos (?) são claramente insuficientes para analisar a
especificidade de cada caso, principalmente quando assentes em critérios tão
vagos como a densidade populacional (que coloca, por exemplo, Albergaria-a-Velha
no mesmo nível que Coimbra) e a distância à sede de Concelho (distância
absoluta (!), fazendo tábua-rasa do conceito de distância-relativa ou
distância-custo). Os factores tidos em conta são incompreensivelmente estáticos e estanques, não enfatizando, por exemplo, questões como os movimentos pendulares ou sazonais, a estrutura da população ou a composição do tecido económico.
Esta "reforma" constitui também mais uma oportunidade perdida para a negociação definitiva dos limites concelhios, acabando com a loucura proporcionada pela CAOP e pela constante alteração dos limites administrativos.
A Proposta de Lei 44/XII atinge níveis de
descaramento quando afirma que a reforma pretende a “preservação da identidade
cultural e histórica, incluindo a manutenção dos símbolos das anteriores
freguesias”, que as alterações “reforçarão a prestação do serviço público,
aumentarão a eficiência e reduzirão custos” e irão “reforçar a descentralização
e a proximidade com os cidadãos”. Qual a
sustentação científica para estas afirmações? Não se sabe.
A "reforma" é encarada como um fim em si mesmo, em vez de ser um meio para o desenvolvimento territorial homogéneo, ou seja, não preconiza um modelo de
ordenamento territorial sustentável e equilibrado, não garante ganhos de eficiência
e redução de custos, não traz nada de novo quanto a competências e recursos do
poder local e acima de tudo, não respeita a vontade dos cidadãos.
terça-feira, 4 de setembro de 2012
A cidade subvertida
Os excertos que se seguem do filme “Nuovo Cinema Paradiso”, de Giuseppe Tornatore, realizado em 1988, retratam a imagem da praça central da vila de Palazzo Adriano, na Sicília. O filme relata a amizade entre Totó e Alfredo, e a relação afectiva que estes construíram entre si e com um antigo cinema.
Começando na alvorada do século XX, quando o automóvel era apenas um objecto de ostentação de riqueza, podemos observar as diferenças que ocorrem naquele espaço, até à década de 80. O que era um espaço público amplo, higienista, de convívio e vizinhança, aos poucos transforma-se num reduto ocupado pelo automóvel e o próprio cinema é demolido, no final do filme, para dar lugar a um parque de estacionamento.
Esta usurpação, consentida pela Polis, configura uma total subversão do sentido de cidade, enquanto local de partilha e de encontro, de trocas e de diálogo. A rua ou a praça deixam de ser um lugar de fruição pública, de cidadania, para serem um local de passagem, de depósito de veículos, ou seja, um não-lugar.
A invasão das cidades pelo automóvel acentuou-se definitivamente após a II Guerra Mundial e nem as crises petrolíferas puseram um travão a esta praga. Pelo contrário: o aumento do número médio de veículos por família, por comodismo e/ou necessidade; o défice ou deficiente ordenamento urbano, que afasta a função residencial do centro das cidades; a proliferação de vias rápidas e circulares, cada vez mais largas e cada vez mais ineficientes, poluídas, caóticas e castradoras do tempo livre; e a ineficiência do transporte público, em resultado do mau ordenamento (em Portugal, acentuado por uma visão provinciana do transporte público como um modo de transporte das classes mais pobres) e do desinvestimento dos últimos anos (enquanto que o automóvel é subsidiado), conduziram a cidade contemporânea a uma total dependência do automóvel.
Os resultados nocivos deste modelo de desenvolvimento urbano são evidentes na saúde urbana, na diminuição da qualidade ambiental, na diminuição (ironicamente) da acessibilidade, no aumento da insegurança e da solidão, e na diminuição quantitativa e qualitativa do espaço público.
A resposta das instituições, ao invés de assentar num novo modelo de desenvolvimento e ordenamento, onde se procurasse harmonizar a mobilidade rodoviária com a pedonal, reduzindo a necessidade de deslocações, limita-se a criar pequenos espaços livres do automóvel, como se uma reserva protegida se tratasse. Tal como acontece com as reservas ambientais, que não são mais que ilhas cristalizadas no meio do caos ecológico, também as ruas pedonais, as ciclovias ou os passeios ribeirinhos, não são mais que um último reduto, criado artificialmente e explorado comercialmente, do peão e da fruição do espaço público.
Por último, mais um exemplo da subversão do sentido de cidade, dado Donald Appleyard através do livro Livable Streets e retirado do blogue Menos Um Carro.
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
Broken Windows – Perceção da segurança pública
"Considere-se um edifício com algumas janelas
quebradas. Se as janelas não são reparadas, a tendência é para que vândalos
partam mais janelas. Eventualmente, poderão entrar no edifício e se este
estiver desocupado, tornam-se "ocupas" ou incendeiam o edifício. Ou
considere-se um passeio. Algum lixo acumula-se. Depois, mais lixo. Num dado
momento, as pessoas começam a deixar sacos de lixo" - “Fixing Broken
Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities”, de George
L. Kelling e Catherine Coles, é um livro de criminologia e sociologia urbana,
publicado em 1996, sobre criminalidade e estratégias para a controlar ou
eliminar dos ambientes urbanos.
A teoria das “janelas quebradas”
assenta em duas premissas fundamentais: a sua aplicação resulta numa diminuição
do crime de pequena escala e do comportamento antissocial; e o crime de grande
escala é, consequentemente, prevenido. Uma
estratégia bem sucedida para prevenir o vandalismo, segundo os autores do
estudo, passa por corrigir rapidamente os pequenos problemas que surgem no
espaço público, como, por exemplo, reparar rapidamente as janelas quebradas ou
as paredes grafitadas dos edifícios abandonados e dos equipamentos públicos
degradados, limpar os passeios todos os dias e manter uma iluminação pública
eficiente. Estes pequenos gestos conduzem, tendencialmente, a uma diminuição
dos atos de vandalismo.
O ambiente
urbano pode ser um elemento condicionador da segurança pública e da criminalidade,
em parte pela sua relação com as normas sociais e as redes de vizinhança. Num
ambiente urbano com poucas ou nenhumas relações sociais de vizinhança,
as normas sociais e de monitorização são
de difícil perceção. Neste contexto, os indivíduos
procuram sinais dentro do ambiente urbano que lhes transmitam os padrões de comportamento
aceitáveis, sendo que um desses sinais é a aparência geral do
meio envolvente, ou seja, do espaço público, dos edifícios, da rua. Um
ambiente ordenado e limpo envia o sinal de que a área é
monitorizada e que o comportamento criminoso não será tolerado. Por outro lado, um ambiente desordenado, que não tem manutenção (janelas
quebradas, paredes grafitadas, lixo excessivo, iluminação
pública deficitária), transmite a sensação que a área
não é monitorizada e que um comportamento criminoso não será detetado.
Em
2008, a Universidade de Groningen, na Holanda, realizou um estudo sobre o
comportamento dos indivíduos sob condições específicas de ordem e desordem
social. Invariavelmente, concluiu-se que
as condições de desordem incentivam
comportamentos de risco mais graves. Numa
das experiências, por exemplo, foi
colocado um envelope contendo cinco euros numa caixa de correio. Quando a caixa estava
limpa, 13% das pessoas
que passaram, roubaram o dinheiro; quando foi coberta com grafitis, este número
subiu para 27%. Em 2005, pesquisadores da Universidade
de Harvard e da Universidade de Suffolk trabalharam com a polícia local para
identificar 34 "pontos negros" do crime em Lowell, Massachusetts. Em
metade dos pontos, as autoridades limparam o lixo, arranjaram a iluminação
pública, estabeleceram novas normas de construção, de colocação do mobiliário
urbano e expandiram serviços de saúde mental e de ajuda para os desalojados. As
áreas intervencionadas obtiveram uma redução de 20% nas chamadas para a
polícia.
O comportamento delinquente
também leva ao corte das relações de
confiança dentro de uma comunidade. Uma vizinhança
consolidada que cuida das suas casas, do espaço público envolvente e que
desaprova a presença de intrusos indesejados, pode mudar rapidamente e dar
lugar a um espaço inóspito e desagradável. Uma propriedade abandonada, ocupada pela
vegetação espontânea e onde as janelas são partidas, rapidamente atrai outros atos de vandalismo. Estes
tornam-se um foco de insegurança que diminui a qualidade urbana e o valor do
solo no bairro, levando a que, futuramente, outras propriedades sejam
abandonadas. Possivelmente, algumas famílias que
residiam há longos anos na comunidade começarão a sair e para o
seu lugar chegarão novos residentes, sem relações de topofilia com o meio
envolvente.
Esta sequência não conduz
inevitavelmente ao florescimento da criminalidade grave ou a ataques violentos contra estranhos. No entanto, a perceção de muitos moradores em relação à sua
segurança, especialmente o crime violento, altera-se, modificando os
seus hábitos sociais. Vão começar a usar as ruas com menos frequência, sem fruir o
espaço público, sem o utilizar como espaço de lazer e cidadania. Se para alguns moradores esta atomização da vida social tem pouco
significado, porque os seus interesses e relações
sociais estão noutro lugar, distante das suas
habitações, para outras pessoas, em particular os mais
idosos, esta atomização social será bastante nefasta, até mesmo ao nível da
qualidade de vida e da saúde mental, porque as suas vidas e vivências dependem bastante do significado que
atribuem e da relação que mantêm com o ambiente urbano local,
enquanto extensão do lar.
Embora estes estudos não
provem, definitivamente, uma relação causal entre desordem do espaço urbano e criminalidade grave, fornecem um conjunto substancial de evidências sobre
como a qualificação do ambiente urbano pode, eventualmente, ser uma estratégia
importante na prevenção da criminalidade e dos pequenos delitos. Por
último, os efeitos colaterais de um ambiente urbano de qualidade e limpo não se
limitam à segurança pública, mas são
também um fator de valorização da qualidade de vida e do mercado
imobiliário local, que pode conduzir à sua gentrificação, à dinamização do
tecido económico e a uma participação cívica dos seus residentes mais ativa.
João Pedro Bastos
in Correio de Albergaria, nº 6 da III Série, de 7 de Novembro de 2012
Subscrever:
Comentários (Atom)